Aos oito anos de idade White Prata ganhou um pandeiro de presente. Não era um brinquedo, era quase um convite vindo deu uma família cheia de músicos para iniciá-la nesse mundo. Só que teve um porém: ela não tinha quase nenhuma habilidade. “Eu era a que pior tocava guitarra, a pior no baixo, a pior na bateria… Eu pensei que era a única que não tinha talento”, relembra. Nascida e criada em Esteio, o menor município em território do Rio Grande do Sul, White Prata só encontraria o seu desabrochar artístico um par de décadas depois, quando tomou contato com a música eletrônica e a possibilidade de fazer música apertando botões, manipulando frequências, tecendo texturas sonoras. Como DJ e produtora, transformou uma parafernália de hardwares em uma tela em branco capaz de expressar um vasto horizonte de possibilidades, que vão desde abordagens radicais e agudas da música pop — como no remix de “Penhasco”, de Luísa Sonza — a uma raiva controlada e certeira — elemento proeminente em Girlboss, seu primeiro álbum solo.
Vivendo em São Paulo desde 2016, White Prata, aos 32 anos, é hoje um dos principais nomes da cena da cidade. Mas até chegar aqui o percurso foi longo. Aos 18, ela conseguiu comprar uma guitarra e entrou em uma banda de pós-punk. “Todo mundo ficava no estúdio usando droga. Aí depois vendi a guitarra e achei que nunca mais ia fazer nada parecido”, conta, rindo do causo. Em paralelo a isso, ela mantinha a paixão pelo vinil e foi formando um acervo precioso, que atualmente abrange de Black Sabbath a Kanye West, de Led Zeppelin a M.I.A., além de várias primeiras tiragens de LPs clássicos da MPB. Por volta de 2012 ou 2013, quando morava em Porto Alegre, esses discos passaram a municiar suas discotecagens iniciais em festas de rock. “Eles convidavam a galera pra plugar lá o cabo p2 num mixerzinho e a gente ia fazer som. Mas eu não tinha nenhuma relação com festa, nunca tinha ido numa rave nem nada assim”.
E o que a impedia de ir às festas e raves? Prata dizia que não ia porque os rolês não tocavam aquilo que ela gostaria de ouvir. Foi então que a DJ Delcu, à época sua namorada, sugeriu: “Então por que você não vira DJ?”. Aquele foi um ponto de virada de chave para Prata, que até então tinha apenas o design como meio de expressão mais subjetiva — sua marca visual eram complexas artes abstratas em 3D que passavam dias para o computador renderizar.
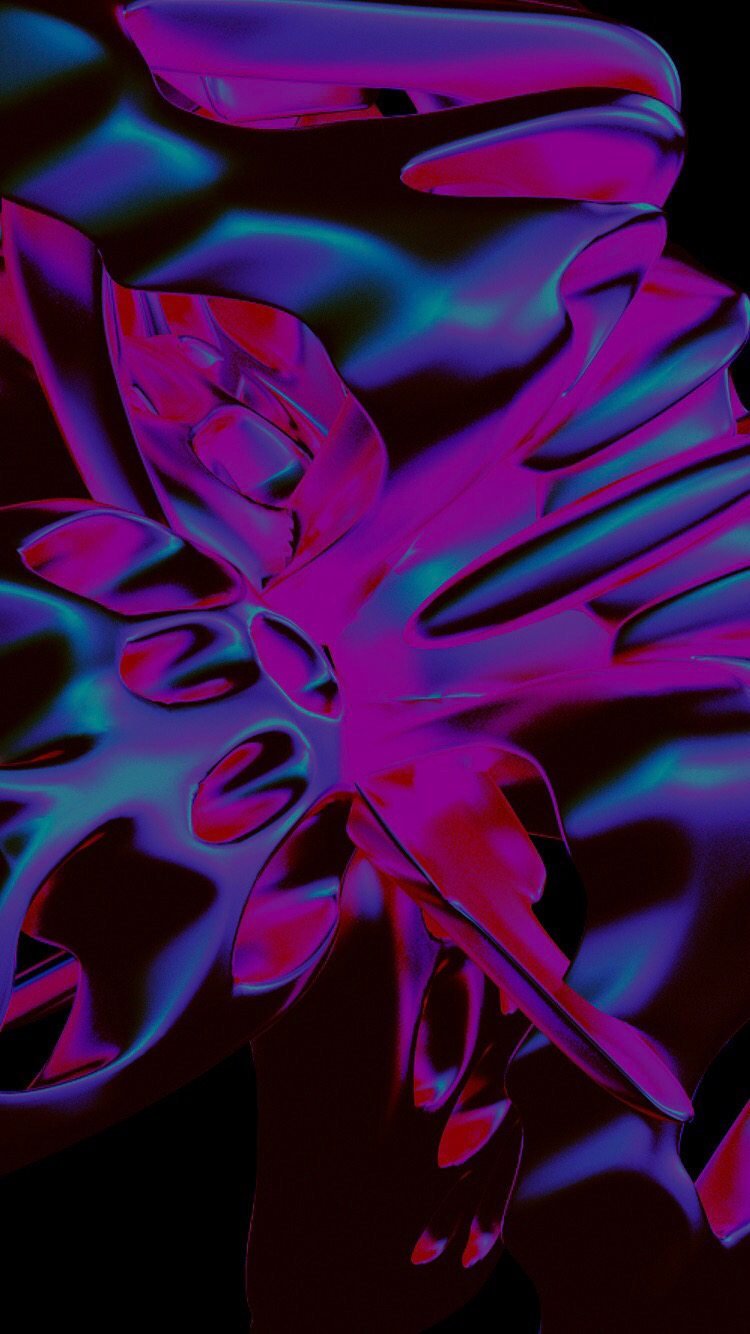

“Eu descobri outra maneira de me expressar”, conta ela. “Antes eu achava que eu só podia me expressar visualmente, que é uma coisa tangível. Tu olha ali e tu consegue ver, tem coisa que tu consegue passar a mão e apertar… E a música tu não consegue ver, tu não consegue tocar, tu não consegue apertar. Ela não existe! Ela é uma vibração na porra do teu tímpano! Vai tomar no cu, isso é muito foda!”
Àquela altura, seu interesse estava sobretudo no trap e em alguns lances mais barulhentos do EDM, como as pirações robóticas de Skrillex. A partir daí foi buscando sons mais e mais agressivos, fazendo do seu set um campo de batalha. Em 2014, na estreia da festa Vorlat, ela fez o seu primeiro set de eletrônica, um b2b com Delcu — que também foi sua parceira no álbum, Hell’s Universal Harmony, de 2021. “O meu teto é que eu comecei a tocar porque eu queria tocar o som mais pesado que eu ouvisse, sabe? Ouvia um negócio assim com um apito que parecia que ia estourar o tímpano, a 180 BPM, eu falava: é essa porra que eu quero tocar. E até hoje quando eu toco procuro um confronto”.

“Nem a agressividade é uniforme, ela tem mil estágios”
As músicas de White Prata são construídas inteiramente em hardwares, onde busca explorar o processamento por meio de diversos pedais de distorção e a criação de texturas — algo que ela diz ter aprendido com o produtor de Diadema RHR, que masteriza suas faixas. Seu processo de gravação sempre surge de uma jam. “Tô tocando e gravo um take. Daí estouro os ganhos. Também carrego em fuzz, overdrive, tudo junto, coladão, bem sujo”, detalha. O método resultado num som combativo, áspero, acidentado, por vezes brutal.
Mas a produtora ressalta que a agressividade não é o único elemento do seu som, e que mesmo a agressividade possui uma amplitude de nuances e significados distintos, que em seu caso conectam-se à experiência de sua transição de gênero. “Não acho que o mundo é só violência e no meu som tento mostrar os contrastes de tudo, sabe? Meu som é bem dinâmico. As coisas não são uniformes. Nem a agressividade é uniforme, ela tem mil estágios. Não é só o ato da violência, o ato hostil. Ela também é uma forma de autodefesa. Não tem como tu ser uma pessoa trans e não aprender sobre isso para desenvolver tuas maneiras de autodefesa”, diz ela.
“Comecei a tocar porque queria tocar o som mais pesado que eu ouvisse, sabe? Ouvia um negócio com um apito que parecia que ia estourar o tímpano, a 180 BPM, eu falava: é essa porra que eu quero tocar. E até hoje, quando eu toco, procuro um confronto”
A transição foi um processo que se arrastou por anos na vida de Prata. A única referência LGBT que tinha na família era um tio que morreu por complicações decorrentes da Aids. Na ocasião, ela tinha 11 anos e começava a ter suas primeiras experiências com meninos. Os pais disseram-lhe: “Se tu beijar menino tu vai ficar verde e morrer”. “Ser trans era a última coisa que eu podia ser, por medo do que eu ia passar”, diz. “Quando eu era criança, por volta dos nove anos, eu pedi um tênis ‘de menina’ pros meus pais. Eles sempre me mimaram muito e me deram. na primeira vez que eu fui numa igreja com o tênis, a galera me pegou pelos pés, virou de cabeça para baixo, tirou meu tênis e jogou numa lata de lixo”.
Por episódios de violência como esse mais o medo que estes incutiram, ela esquivava-se do assunto. “Eu ficava negando. Eu sabia que eu não era isso. Eu sabia que eu não era aquilo. Mas pensava: ‘Não pode! Tu vai ser uma vergonha pra tua família!'”. A mudança para São Paulo a colocou em contato com outras pessoas na mesma condição, que também estavam transicionando, e acabaram sendo sua rede de apoio. “É um momento de extrema vulnerabilidade tu contigo mesmo”, afirma.
A música serviu para canalizar e reprocessar a vulnerabilidade e confusão emocional. “Usei muito a música para me entender. Foi bem no momento que eu tinha descoberto a música eletrônica. Tinha ouvido Jeff Mills, sabe? Sting Ray, Drexciya… Eu vi a galera usando isso pra falar mil coisas e me inspirava para eu também falar as minhas”, reflete.
Apesar das referências aos produtores de eletrônica, Prata bebe de gêneros os mais diversos — antes da nossa entrevista, por exemplo, ela estava mixando a Quinta Sinfonia de Beethoven com “Territory”, do Sepultura. A música pop também serve de inspiração. A ideia de ter faixas curtas e afiadas de Girlboss, por exemplo, são de uma observação dos discos de Pabllo Vittar, com “tracks que dizem muitas coisas em dois minutos”, pontua.

O pop é também um campo fértil de onde ela extrai informações sônicas. Em Girlboss há samples oriundos do thrash metal de Sepultura (uma das bandas favoritas de Prata), o trap de TZ da Coronel, o funk de DJ GBR, o kpop de K/DA e Blackpink, entre outras tantas. Mas a lógica de sampling aqui é diferente da usual: em vez de buscar um recorte perfeito para servir de base (como se fazia no início do rap), Prata utiliza microfragmentos, recortes mínimos de fontes irreconhecíveis que tomam parte dentro de um cenário sonoro cheio de detalhes. “Eu gosto muito de fazer esse rolê de pirataria. Pego um vídeo do YouTube, baixo, corto a frequência e faço um kick, por exemplo”, afirma. “Quero usar a música para deformar. Esse rolê de processar tudo acho que tem a ver com essa parada de colocar vírgula no meu som, naquilo que quero dizer. Uma vírgula muda tudo”.
BOILER ROOM
No último sábado, foi ao ar o Boiler Room de White Prata, gravado com a Limitrofe Television (que produziu o seu clipe “Desfile de Transformistas) em São Paulo — além dela, o canal publicou sets de XD Eric, Delcu, Sodomita, Kontronatura, DJ Bassan, Irmãs de Pau e EPX. Existe aí um marco importante: ela foi a primeira artista trans da América Latina a fazer um live no Boiler Room. “Mas isso não é algo para ser celebrado, não é sobre pioneirismo. É sobre como é difícil o acesso, é pra chamar atenção quanto tempo levou pra acontecer”, salienta.
Antes disso, Prata recebeu outros dois convites para o Boiler Room que acabaram não acontecendo. Um deles foi para o Boiler Room Festival, em Londres, quando a Europa voltava à vida e o Brasil ainda lutava para iniciar a vacinação. Por isso, ela teve de recusar. “Eu nunca viajei pra porra nenhuma, ficava pensando como ia ser ir incrível ir pra Londres, com um monte de gringo querendo ouvir meus bagulho. Mas aí lembrei da Badsista. Ela gravou o Boiler Room dela em Berlim e falou tipo: ‘É muito top gravar na Europa, mas é mais top ainda tu tocar pra tuas amigas”.
Com esse espírito, ela fez do seu set uma verdadeira festa, com as amigas tomando o microfone e cantando MC Kevin. “Virou o Boiler das minhas amigas. Terminei meu set com ‘Doutora 2’ com 70 BPM a mais e minha amiga, outra travesti cantando”, orgulha-se. White Prata tem um poder de transtornar o ambiente fazendo o familiar soar estranho — e o estranho ser o acolhedor.
![]()








